Por Flávio Conrado*
Publicado originalmente em Novos Diálogos
 Uma vez mais estamos vivendo o “tempo da política”. Eleições são momentos que levam as questões da “política” a se introjetarem no cotidiano de todos, com a presença quase sufocante de apelos eleitorais, de disputas partidárias e de candidatos aparecendo por toda parte e em todos os cantos da cidade, sem falar do horário eleitoral (com suas caricaturas!) e a cobertura que jornais e revistas dedicam aos temas relacionados ao processo eleitoral. É o momento das adesões, das críticas e das discussões em torno de propostas e projetos de cidade, para uns; ou de saber se e como será possível obter alguma vantagem no famigerado troca-troca já bem conhecido, para outros. A verdade é que quase ninguém é capaz de ignorar o espetáculo das eleições, nem assistir passivamente aos seus apelos. Quer se acredite ou não na mudança operada pela política, não há como negar que ânimos se evidenciam e a sociedade experimenta um tempo especial onde composições e divisões são construídas.
Uma vez mais estamos vivendo o “tempo da política”. Eleições são momentos que levam as questões da “política” a se introjetarem no cotidiano de todos, com a presença quase sufocante de apelos eleitorais, de disputas partidárias e de candidatos aparecendo por toda parte e em todos os cantos da cidade, sem falar do horário eleitoral (com suas caricaturas!) e a cobertura que jornais e revistas dedicam aos temas relacionados ao processo eleitoral. É o momento das adesões, das críticas e das discussões em torno de propostas e projetos de cidade, para uns; ou de saber se e como será possível obter alguma vantagem no famigerado troca-troca já bem conhecido, para outros. A verdade é que quase ninguém é capaz de ignorar o espetáculo das eleições, nem assistir passivamente aos seus apelos. Quer se acredite ou não na mudança operada pela política, não há como negar que ânimos se evidenciam e a sociedade experimenta um tempo especial onde composições e divisões são construídas.
Quando comecei a estudar a participação político-eleitoral dos evangélicos em meados dos anos 1990, me perguntava se era possível pensar em uma particularidade evangélica na expressão de ideias e valores políticos no Brasil contemporâneo. Chamava, e ainda chama, a atenção nossa capacidade de eleger e fazer das comunidades evangélicas espaços de mobilização eleitoral como nunca antes houvera imaginado os pais fundadores do protestantismo brasileiro e suas correntes majoritárias até os anos 1960. Naquela época, já havia sido observado, através de algumas pesquisas sociológicas e antropológicas, que a máxima “irmão vota em irmão” tinha se consagrado como fórmula hiperbólica do ativismo político pentecostal. Obviamente, minha esperança era detectar descontinuidades com as práticas e concepções políticas vigentes no cenário político brasileiro.
Em primeiro lugar, destaco dois aspectos positivos a respeito dessa participação. Não é novidade dizer que esta experiência recente de participação política é um indicador de que nossa democracia avança. Já em 1996, Antonio Flávio Pierucci (1) dizia isso a respeito da abertura dos pentecostais para o mundo da política como um fato positivo do processo de democratização no país, já que são massas que participam do jogo democrático como sujeitos — recuso por princípio a máxima de senso comum de que “evangélico não sabe votar”, assim como já superamos a ideia de que o “povo não sabe votar”, ambas escondendo certo elitismo esclarecido cujo projeto racionalizador ou modernizador supõe a tutela das “massas ignorantes”.
No caso específico dos evangélicos, pode-se fazer também a mesma observação que o antropólogo Marcio Goldman (2) fez ao estudar a participação do movimento negro nas eleições de Ilhéus: a dimensão da subjetividade política ocupa um lugar importante na economia da identificação entre candidatos e eleitores evangélicos. O já tradicional “irmão vota em irmão” é mais do que simplesmente a ausência/presença de discernimento político; ao contrário, é exatamente a identificação subjetiva entre o eleitor e um candidato que compartilha a mesma identidade, abstraindo mesmo as contradições de um projeto político que não leva em conta as consequências republicanas de tal escolha. Mas aí também se encontra a lógica da democracia representativa e não nos deveria surpreender. Muitos parlamentares negros, gays, sindicalistas, mulheres, jovens etc. foram eleitos acionando essa mesma lógica identitária. Longe de ser ruim para o sistema democrático, é a garantia de que diferentes demandas, de diferentes setores, chegarão aos espaços representativos do arcabouço democrático.
Desconfio que parte de nossa reticência com a participação dos evangélicos na política esteja baseada na constatação que ele foi operado majoritariamente por sujeitos políticos pentecostais e neopentecostais (pobres e pouco instruídos!). É preciso reconhecer, talvez, que o “irmão vota em irmão” não é uma aberração democrática em si, é antes a expressão do que é mais fundante na democracia, o desejo de ser e de ter através de representantes eleitos por meio de identidades e interesses particulares (embora seja possível residualmente a eleição de candidatos com discursos universalistas). O fato de que esses candidatos foram escolhidos por máquinas denominacionais tem pouca importância neste argumento (3).
Por outro lado, para não dizer que só falei das flores, me parece importante a distinção que faz Renato Janine Ribeiro entre desejo e vontade como duas ideias chaves para pensar o projeto democrático-republicano — embora utilizemos estes termos intercambiavelmente, deveriam ser analiticamente separados, defende o filósofo. Vontade, diz ele, é a base da república porque funda-se na autolimitação, na restrição de nossos desejos mais intensos em benefício de certos ideais. Já a democracia, continua, tem sua expressão no desejo, no anseio popular por ser e ter mais — ele explica que os teóricos gregos da política também usavam o termo demos para designar os “pobres”. A saída estaria, então, na dialética entre desejos e ideais/[força de] vontade. Dito de outro modo, o cerne da questão é que “o problema da democracia, quando ela se efetiva — e ela só se pode efetivar sendo republicana —, é que, ao mesmo tempo que ela nasce de um desejo que clama por realizar-se, ela também só pode conservar-se e expandir-se contendo e educando os desejos” (3).
Paradoxalmente, é o evangelicalismo pentecostal (em grande parte puritano, pela contenção dos excessos) que não é capaz de conter seus próprios desejos — nesse caso, de reconhecimento, de influência na cultura, no ordenamento social, de presença na mídia —, e abraçar ideais republicanos como o respeito ao pluralismo, a busca do bem comum, a responsabilidade pública. Penso que o que é chocante no “irmão vota em irmão” é a incapacidade de eleitores e parlamentares evangélicos (e aqui a denominação ou origem denominacional significa muito pouco) de desenvolver, acionar ou manter-se vinculado à lógica republicana e seus ideais. Aí parece estar o nó da questão. Quando líderes evangélicos procuram ou são procurados por líderes políticos para selar acordos eleitorais, não negocia-se apenas as consciências individuais — desconsiderando um dos pilares da democracia, a consciência política. Querendo levar a igreja para a dimensão política como curral, é a dimensão republicana do bem comum, que se pode inclusive identificar nas entrelinhas do Antigo e do Novo Testamentos, que se perde de vista. Colonizam-se as consciências, impedindo a uma só vez a manifestação da dignidade da política (Hannah Arendt) — enquanto atividade fundamental da vida em comum —, e a dignidade da diferença (Jonathan Sachs) — enquanto afirmação do diálogo como valor e da capacidade de dialogar visando o bem comum.
Grande parte da atuação político-eleitoral evangélica é cega para questões estruturais da sociedade brasileira como a pobreza, a desigualdade, a violência urbana, o saneamento, a habitação, a reforma agrária, a corrupção, a educação, a saúde, e tantos outros temas que são centrais para um país justo e igualitário. É cega também para o diálogo com diferentes setores da sociedade e enxerga a si mesma como portadora de algum tipo de licença para sacrificar os meios no altar dos fins (os fins aqui não sendo o bem comum, mas uma certa “maquinação orquestrada contra os evangélicos”), daí não poucos casos de corrupção envolvendo parlamentares evangélicos.
Ao usar as eleições seja para afirmação de cacife social seja para cacifar interesses corporativistas os líderes e políticos evangélicos apequenam o legado ético do cristianismo, leiloam as consciências individuais e perdem uma grande oportunidade de fazer do “tempo das eleições” um momento de educação política para um projeto democrático-republicano de nação, no qual evangélicos, junto a outros segmentos religiosos e não-religiosos, construam outro Brasil possível.
Irmão pode votar em irmão? Pode, claro, mas apenas na medida em que signifique um “responsabilizar-se pelo mundo” como parte da tarefa de renovação de toda a criação.
(1) A benvinda politização dos pentecostais. Contexto Pastoral, n.33, p.6, 1996.
(2) GOLDMAN, Marcio. SEGMENTARIDADES E MOVIMENTOS NEGROS NAS ELEIÇÕES DE ILHÉUS. Mana [online]. 2001, vol.7, n.2, pp. 57-93. ISSN 0104-9313. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-93132001000200003.
(3) Candidatos, em geral, não são escolhidos em processos democráticos mas, na maioria das vezes, por máquinas partidárias ou facções partidárias, na disputa pelo poder político.
(4) Ver http://www.renatojanine.pro.br/FiloPol/versus.html e http://www.renatojanine.pro.br/FiloPol/pensando.html.
*Flávio Conrado é mestre e doutor em Antropologia pela UFRJ, com pós-doutorado pela Universidade de Montreal (Canadá). É assessor da Rede de Jovens da América Latina e do Caribe de Religiões pela Paz. Editor da revista e Editora Novos Diálogos.


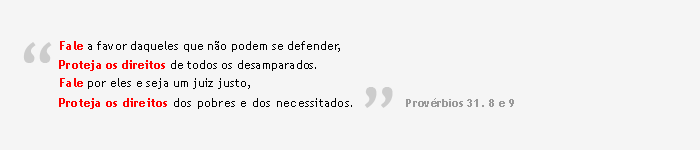

Nenhum comentário:
Postar um comentário