Por Ronilso Pacheco
história é um profeta com os olhos voltados para trás.
~ Eduardo Galeano
Ouvi alguém dizer, em uma postagem de Facebook, que tinha medo desse discurso em defesa do “cidadão de bem”. Há boas razões para isso, afinal de contas, em momentos de crise e de aprofundamento da tensão social, onde o aumento do medo, da sensação de insegurança e da violência são marcas de apontamento de uma situação limite, a figura do “cidadão de bem” surge como discurso que vem legitimar toda ação que escapa às fronteiras da justiça institucional, e, sobretudo, da ética das relações. Mas o referido “cidadão de bem” é definido muito mais por “quem não é”, do que por “quem é”, porque, ao que parece, o “cidadão de bem” não existe de fato, ele é um construto, um instrumento que serve para identificar, e principalmente selecionar, quem deverá ficar de fora do arco simbólico da ética.
Essa seleção serviu suficientemente para os nazistas alienarem os judeus da sociedade europeia ocidental. Em seu Modernidade e holocausto, Zygmunt Bauman afirma que
“todos os ingredientes do Holocausto foram normais; ‘normais’ não no sentido do que é familiar, mas no sentido de plenamente acompanhar tudo o que sabemos sobre nossa civilização, seu espírito condutor, suas prioridades, sua visão imanente do mundo – e dos caminhos adequados para buscar a felicidade humana e uma sociedade perfeita”.
Ou seja, para tornar a Alemanha um país judenfrei (livre de judeus), foi preciso tirá-los da proteção deste arco simbólico da ética. Os judeus deixaram de ser “cidadãos de bem”. Quem era, então, o “cidadão de bem”? O alemão genuíno, homens e mulheres, cristãos, trabalhadores, donas de casa, estudantes, seus velhos sobreviventes da derrota humilhante na Primeira Guerra, mas que não desistiram de construir um país grandioso, com esforço, trabalho e decência. O estado e a justiça foram feitos para estes, e não para aqueles.
No seu clássico Arquipélago Gulag, Alexander Soljenítsin narra os critérios aleatórios para a pena de morte para os que não correspondiam à condição de “cidadão de bem” da ditadura de Stálin. Um agrônomo fôra condenado a morte por um erro na análise dos cereais da sua unidade; o chefe de uma oficina de artesanato foi condenado porque na sua loja irrompeu um incêndio devido a uma faísca de uma máquina à vapor; um estudante foi condenado a morte pela venda de fitas de aço para a fabricação de penas de escrever. Evidentemente a pena não está relacionada com a “gravidade” da ação praticada, mas sim por se tratar de sujeitos que já não estavam contemplados no arco da ética, já eram inimigos, seres sem direitos, não-cidadãos-de-bem.
Mas o Brasil, e especificamente o que se apresenta a nós agora, no Rio de Janeiro, tem as particularidades que já tão bem nos marcam. Basta apenas José Murilo de Carvalho para nos lembrar que a abolição aqui realizada “lançou o restante da mão-de-obra escrava no mercado livre e engrossou o contingente de subempregados e desempregados”. Já em 1892, afirma Murilo de Carvalho em seu Os Bestializados, “Evaristo de Moraes observava que havia na capital ‘gente desocupada em grande quantidade, sendo notável o número de menores abandonados’”. O controle da população marginal, e o que fazer com os que não eram dignos da alcunha de “cidadão de bem”, sempre foi um dilema brasileiro.
A reforma empreendida por Pereira Passos, conhecido como o Haussman tropical, para aproximar a estética do Rio de Janeiro da charmosa Paris, fez o mesmo, deixando evidente quem estaria fora deste arco simbólico da ética e do direito à cidade. Negros, pobres, mendigos, vagabundos, malandros, desempregados, prostitutas, jogadores, bicheiros, capoeiras, todo tipo de gente que não se enquadrava na definição construída do “cidadão de bem”.
Portanto, fora do arraial do “cidadão de bem”, supressão de direitos, repressão, violência legitimada, distanciamento da justiça, distanciamento popular, condenação, julgamento moral. Fora do arraial do “cidadão de bem”, todo esforço de intervenção é ridicularizado pela massa social, o que resulta na hostilidade às organizações de Direitos Humanos que gastam o seu tempo “defendendo bandidos”.
O filósofo esloveno Slavoj Zizek entende que “a ilusão do antissemitismo é que os antagonismos sociais são introduzidos pela intervenção judaica, de modo que, se eliminarmos os judeus, o corpo social harmonioso, não antagônico, terá lugar”. Isso tem muito da nossa tragédia atual. Nossa justificativa é que os ladrõezinhos (ou marginaizinhos, segundo Sheherazade) nos sinais nos perturbam; os crackudos nas praças nos intimidam; os pedintes nos assustam; os presos dos presídios gastam nosso dinheiro; prostitutas e travestis enfeiam e desmoralizam as noites das nossas cidades; pretos incorrigíveis causadores de arrastões tiram o nosso sossego das praias. O raciocínio é que, se eu, preto e pobre, passei necessidade, mas nunca roubei, sempre trabalhei e hoje estou numa das mais importantes universidades do Rio de Janeiro, não posso aceitar que outros, só por serem pretos e pobres, levem a vida roubando e ameaçando os “cidadãos de bem”. Portanto, na medida em que eles forem eliminados ou intimidados com as armas dos que estão dispostos a sujarem as mãos com o sangue do inimigo que nos acuam, teremos uma sociedade mais segura. Então se ampliará o arco simbólico da ética, e só sobrarão os legítimos “cidadãos de bem”. É com esse argumento que estão sustentando toda essa loucura.
Ronilso Pacheco é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Estuda Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio, integra a RENAS-Rio, afiliada da Rede Evangélica Nacional de Ação Social, o Congresso Nacional Underground Cristão (CNUC). É pesquisador no Programa de Iniciação Científica da PUC-Rio (Ética e Alteridade) e congrega na Comunidade Cristã S8 Rio. Interlocutor para as igrejas na Ong Viva Rio.

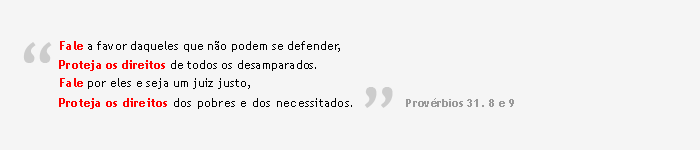

Nenhum comentário:
Postar um comentário